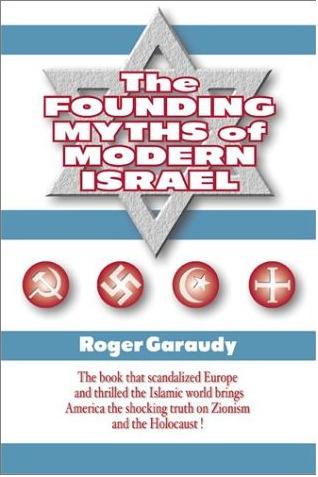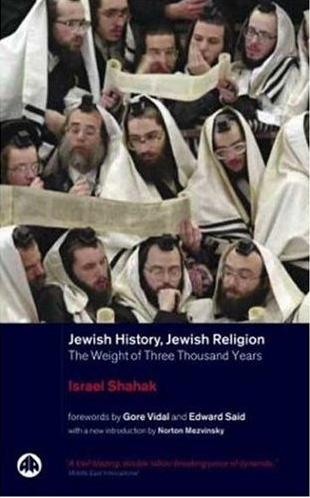Os amigos de Ariel Sharon
Por Serge Halimi
Tradução: Jô Amado
A noção de que o lobby pró-israelense American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), muito atuante nos corredores do Congresso, venha orientando a política norte-americana em relação ao Oriente Médio caducou.
Segundo essa idéia, bastaria que essa organização, que reivindica ter 75 mil membros, perdesse uma batalha parlamentar para que sua força — e a do governo de Jerusalém — automaticamente declinassem. Isso é coisa do passado.
A totalidade dos meios dirigentes norte-americanos — Casa Branca, Congresso, os dois principais partidos, a imprensa e o cinema1 — construíram e consolidaram um sistema pró-israelense de tal forma enraizado na vida política, social e cultural dos Estados Unidos, que sua derrota tornou-se praticamente inconcebível.
No dia 11 de junho de 2003, quando parecia prestes a deslanchar um enésimo "processo de paz", George W. Bush teve a audácia de se declarar "preocupado" pelo atentado cometido na véspera por israelenses contra um dirigente do Hamas. Pegou mal. A AIPAC — que, por sinal, raramente contou com um inquilino tão simpático à sua causa na Casa Branca — denunciou, na mesma hora, "a imparcialidade mal calculada" dos comentários presidenciais. O uso do exército para se proteger de "uma bomba-relógio" é "100% justificável", acrescentou Robert Wexler, deputado democrata (e progressista) pelo Estado da Flórida. "Israel não tem senão a opção de usar a força", opinou Tom Lantos, líder democrata na Comissão de Assuntos Externos na Câmara dos Representantes. Lantos também é tido, nos Estados Unidos, como ligeiramente de esquerda. O que não impede que seja um porta-voz das posições do Likud. "Se os palestinos não desarmarem os terroristas, então, Israel o fará", chegou a ameaçar esse deputado da Califórnia.
Perda de cargos e punições exemplares
Há pouco mais de quinze anos, outro membro do Congresso, Mervyn Dymally, já dizia que um parlamentar do Knesset tem mais liberdade para criticar a política israelense do que um parlamentar norte-americano2. Na realidade, qualquer candidato a um cargo de responsabilidade nacional nos Estados Unidos tem tudo a ganhar se concordar com as posições mais extremadas do governo de Jerusalém — seja este qual for. E tem tudo a perder se fizer o contrário. Todo mundo sabe disso. As advertências endereçadas aos recalcitrantes serviram de lição aos outros.
Em 1982 e 1983, dois parlamentares republicanos do Estado de Illinois, Paul Findley e Charles Percy, tiveram o desplante de se encontrar com Yasser Arafat (o primeiro) e de aprovar a venda de aviões de reconhecimento Awacs à Arábia Saudita (o segundo). A AIPAC financiou maciçamente a campanha de seus adversários. Ambos perderam suas cadeiras3. Vinte anos depois, repetiu-se o mesmo. Nas eleições primárias de junho e agosto de 2002, nos Estados de Alabama e Geórgia, dois parlamentares — desta vez, democratas, Cynthia McKinney e Earl Hilliard — esbarraram, um após o outro, em candidatos de oposição apoiados, com bastante generosidade, por organizações pró-israelenses. Embora a etapa das primárias normalmente não represente um grande obstáculo para parlamentares com assento no Congresso, ambos foram derrotados. Faziam parte do grupo de 21 audaciosos membros da Câmara dos Representantes (435 deputados) que se haviam manifestado contra uma resolução... de apoio às represálias cometidas pelo exército israelense contra palestinos, acusados de cumplicidade coletiva com os autores de atentados-suicidas.
Máquina lubrificada para desqualificar
No contexto do pós-11 de setembro, a técnica que permite desqualificar um parlamentar insuficientemente submisso às teses mais intransigentes do Likud já estava perfeitamente lubrificada. Esse intrépido (e original) político pode chamar a atenção; alguns norte-americanos de origem árabe (ou muçulmanos) irão procurá-lo em sinal de gratidão e financiar sua próxima campanha. E aí o fruto fica bichado... Passando pelo pente fino a lista (que deve ser divulgada publicamente) dos colaboradores financeiros em busca de nomes com uma sonoridade assustadora, não seria improvável encontrar ali o nome de um indivíduo que já fora interrogado pelo FBI, ou que já tivera ajudado uma organização de caridade palestina — evidentemente, "vinculada ao terrorismo". Cynthia McKinney, por exemplo, teria "aceitado dinheiro de pessoas de quem se disse serem terroristas árabes". Pouco após os atentados contra o World Trade Center, um príncipe saudita ofereceu 10 milhões de dólares à cidade de Nova York. Sua doação foi recusada, com desprezo, pelo então prefeito republicano, Rudolph Giuliani, sob o argumento de que sua contribuição se fazia acompanhar por uma crítica à política norte-americana em relação ao Oriente Médio.
Em Nova York, mas também em outras cidades, as pessoas se afastam de tudo o que seja árabe ou muçulmano. Eleita senadora pelo Estado de Nova York em novembro de 2000 — e já de olho na Casa Branca em 2008 — Hillary Clinton compreendeu rapidamente o que estava em jogo. Em 1998, ela manifestara seu apoio à idéia da criação de um Estado palestino. No ano seguinte, o que é pior, cometeu a terrível imprudência de se deixar abraçar pela mulher de Arafat. Se já era inconveniente no comportamento de uma First Lady, esse abraço se tornava simplesmente suicida para quem tinha ambições eleitorais em Nova York. Isto porque, como explica Sidney Blumenthal, ex-assessor político do presidente Clinton, "um candidato do Partido Democrata tem que obter dois terços dos votos de judeus na cidade de Nova York para vencer no Estado4". É claro que, em poucas semanas, Hillary Clinton reviu algumas de suas posições anteriores.
A embaixada em Jerusalém e as eleições
Começou por descobrir que defendia a transferência da embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém. Seria tão urgente assim? Essa questão, periodicamente abordada pela imprensa norte-americana, já fizera James Carter perder as primárias de Nova York para o senador Edward Kennedy, que defendia a transferência. O que ocorreu... em 1980. Mais recentemente, os candidatos Ronald Reagan e William Clinton exigiram, por sua vez, a citada transferência, tendo ambos terminado seus dois mandatos na Casa Branca sem que a embaixada tivesse mudado um centímetro de seu lugar.
Sobrava a ofensa, assustadora, de ter sido abraçada pela mulher de Arafat. Hillary Clinton dedica-lhe um trecho das bastante indigestas (mas muito lucrativas) Memórias que acaba de publicar mediante um adiantamento de oito milhões de dólares: "Quando me aproximei dela, no palanque, a senhora Arafat me deu o abraço, de acordo com a tradição. Se tivesse sabido das frases detestáveis que ela acabava de pronunciar, eu as teria denunciado na mesma hora [...]. Minha assessoria de campanha conseguiu consertar os estragos5." Mas seguiram-se outros quando se divulgou que a candidata democrata aceitara a contribuição financeira da Muslim American Alliance (que, ao mesmo tempo, pedia para se votar em George W. Bush na eleição presidencial...). O dinheiro impuro foi devolvido na hora. E Hillary Clinton se desdobrou em desculpas por não ter sido mais vigilante.
Seria difícil imaginar semelhante intransigência quando se trata dos partidários mais satânicos de Ariel Sharon. O fato de dirigentes fundamentalistas protestantes descreverem o islamismo como "diabólico e torpe", seu profeta como um "fanático de olhos arregalados" — ou mesmo um "pedófilo possuído pelo demônio" — o fato de que alguns desses fundamentalistas tenham aprovado os atentados ("terroristas"?) contra médicos que praticavam o aborto (sete pessoas mortas desde 1993) de que incentivem a discriminação contra homossexuais e de que até sonhem com uma segunda vinda do Messias, a qual seria o prenúncio da conversão ou exterminação dos judeus6, representa apenas um ligeiro constrangimento para Abraham Foxman, diretor nacional da Anti-Defamation League. Ele explica: "Os judeus norte-americanos não têm que se desculpar por insistirem em incentivar o apoio à direita cristã (evangélica)7 em Israel. Sitiado, Israel precisa desse apoio. Um apoio que é simultaneamente enorme, contínuo e incondicional."
Tal assimetria antiárabe é teorizada pela totalidade dos meios dirigentes norte-americanos. "Existe uma diferença", explicava Rudolph Giuliani, "entre uma democracia, um Estado de direito, sejam quais forem suas imperfeições, e uma ditadura construída sobre o princípio do terrorismo8." Portanto, em nome da "clareza moral" que iria impor a luta contra o terrorismo, ficou praticamente proibido a qualquer autoridade norte-americana, incluindo-se o presidente dos Estados Unidos, propor ao governo israelense que faça a mínima concessão.
Wolfowitz vaiado por pró-israelenses
Quando Bush avançou um milímetro nessa direção, o diretor de redação do Wall Street Journal, os intelectuais neoconservadores William Kristol e Robert Kagan, o ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu (que tem, na televisão norte-americana, uma presença comparável à do apresentador da previsão do tempo) e o senador democrata, e candidato à Casa Branca, Joseph Lieberman, criticaram-no pela perda de "clareza moral". Falcão num governo de falcões — cujo chefe qualificou Ariel Sharon de "homem de paz", Paul Wolfowitz chegou a conseguir ser vaiado, em Washington, por uma multidão pró-israelense. No palanque, onde já haviam discursado Rudolph Giuliani, Hillary Clinton, o deputado e líder democrata na Câmara dos Representantes, Richard Gephardt, e o presidente da AFL-CIO, John Sweeney, ele teve o inacreditável desplante de mencionar a necessidade de um Estado para os "palestinos inocentes, que sofrem e também morrem9."
Num momento em que a eleição presidencial de 2004 é o referencial para tudo, George W. Bush apela para Karl Rove, seu assessor político, no que se refere à maioria de suas decisões. É ele que relê todos os discursos do chefe de Estado; viajaram juntos ao Oriente Médio em maio de 2003. Tão cínico quanto seus colegas assessores de comunicação10, Rove declarou que uma eleição é "inteiramente composta pelo visual, você deve fazer a campanha como se o país inteiro estivesse assistindo à televisão sem som."11
Como já tem o eleitorado militarista garantido, seria conveniente que o presidente dos Estados Unidos também passasse por homem da paz. Belas imagens de apertos de mão, em Camp David e outros lugares, poderiam, sem dúvida, contribuir para isso.
A corrosão da base adversária
A posição política de Bush parece, a priori, suficientemente sólida para lhe permitir algumas ousadias no Oriente Médio. Tem o voto da direita religiosa mesmo que ele repreenda uma vez por ano um Sharon que ela adora. Quanto ao eleitorado judeu (cerca de 4% do total) é principalmente importante nos Estados (com exceção da Flórida) considerados currais dos democratas (Nova York, Califórnia, Massachusetts). No entanto, como lembram os biógrafos de Karl Rove (dois livros dedicados à sua pessoa acabam de ser publicados e ambos mencionam, no título, "o cérebro de Bush"...) "numa nação tão dividida por igual quanto o foi por ocasião da última eleição presidencial, Rove não está disposto a pensar em políticas que ponham em risco os votos. Se defende uma mudança de rumo, é porque prevê que a nova posição será vantajosa para o presidente, para os republicanos e para a causa conservadora."12
Servir à causa também significa corroer a base do adversário. Já é plausível que Bush se saia melhor no ano que vem junto ao eleitorado judeu do que em novembro de 2000 (quando obteve 19% dos votos, contra 78% de Albert Gore). Mas, nos Estados Unidos, a principal das eleições também é fundamental em termos de dólares. E aí, o potencial republicano é enorme: 21% do total das contribuições e metade dos doadores individuais do Partido Democrata são judeus, muitas vezes os mais pró-israelenses (no Partido Republicano, não passam de 2,5%). Dentro em pouco, a próxima campanha de Bush estará abarrotada de dinheiro (a queda nos impostos não será perdida por todo mundo...). A vantagem financeira dos republicanos se tornará ainda mais gigantesca se Rove conseguir abalar um dos principais pilares da base de contribuições financeiras do Partido Democrata. Vem se dedicando a isso desde o 11 de setembro. E, aparentemente, não sem sucesso.13
A esta altura dos acontecimentos, as convicções pró-Likud daqueles neoconservadores que são constantemente citados tornam-se secundárias; a preocupação em personalizar as políticas e a preguiça mimética da imprensa explicam, em parte, o impacto que lhes é atribuído. Fundamentalmente, é o conjunto das variáveis políticas, sociais, religiosas e midiáticas norte-americanas que, na realidade, confirmam os objetivos dos falcões israelenses. A ação do lobby é real, mas ela estrutura e organiza forças que já agem espontaneamente. Desde o dia 11 de setembro de 2001, nunca essas forças foram tão contrárias às aspirações palestinas. Ariel Sharon sabe disso muito bem.
NOTAS:1 Segundo a revista Harper’s (edição de dezembro de 1998), 95% dos filmes em que o principal protagonista masculino era árabe, o apresentavam sempre como ganancioso, violento ou desonesto. E isso foi antes do dia 11 de setembro...
2 The New York Times, 7 de julho de 1987. O ultraconservador Patrick Buchanan chegou a comparar o Congresso a um "território israelense ocupado".
3 Um deles, Paul Findley, descreveu essa aventura em They Dare to Speak out, Editora Lawrence Hill, Nova York, 1983.
4 Ler, de Sidney Blumenthal, The Clinton Wars, Editora Farrar Straus and Giroux, Nova York, 2003, p. 682.
5 Ler, de Hillary Rodham Clinton, Mon Histoire, Editora Fayard, 2003, p. 617. A narrativa que a autora faz das negociações de Camp David, de junho de 2000-janeiro de 2001, é uma reprodução ipsis litteris das teses israelenses.
6 Ler, de Ibrahim Warde, "Il ne peut y avoir de paix avant l’avènement du Messie", Le Monde diplomatique, setembro de 2002.
7 Ler, de Abraham Foxman, "Why Evangelical Support for Israel is a Good Thing", JTA .org, 16 de julho de 2002, site http://www.adl.org/Israel/evangelical.asp
8 Citado pelo New York Times, 28 de fevereiro de 1999.
9 Ler, de David Corn, "Searching for 'moral clarity'", The Nation, 23 de abril, 2002.
10 Ler, de Serge Halimi, "Faiseurs d’élection made in USA", Le Monde diplomatique, agosto de 1999.
11 Ler, de James Moore e Wayne Slater, Bush’s Brain: How Karl Rove Made George W. Bush Presidential, ed. John Wiley & Sons, Hoboken (Nova Jersey), 2003, p. 273.
12 Ibid, pp. 286 e 294.
13 Ler, de Thomas Edsall, "Pledging Allegiance to Bush: The GOP hopes pro-Israel policies translate into Jewish votes", The Washington Post National Weekly Edition, 6 de maio de 2002.
|
Races? Only one Human race United We Stand, Divided We Fall |
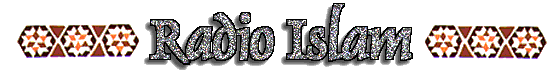 |
No time to waste. Act now! Tomorrow it will be too late |
|